
Chá e Cadernos 100.48
Mauri Paroni
Não tive como ator o acento principal de meu ofício, apesar de tê- lo sido com frequência. Isso não quer dizer que não a tenha praticado, seja por formação, sobretudo por ser um diretor; e essa atividade é por antonomásia o principal instrumento expressivo de um diretor que dá muita importância à atuação. Entretanto, uma experiência definitiva e divisora de águas foi quando, já bastante afirmado na Itália, frequentei um longo seminário de atuação com o ator senegalês Mamadou Dioume.
Mamadou formou-se no Instituto Nacional de Artes do Senegal. Em 1968, viveu o Creonte na Antígona de Jean Anouilh no Teatro Nacional Daniel Sorano, onde trabalhou até 1984 sob a direção de Raymond Hermantier, companheiro de Jean Vilar. Em 1984, Peter Brook o chama para fazer Bhima, o filho do vento, no “Mahābhārata”. Continuou com Brook na “La Tragèdie de Carmen”, “Woza Albert”, “La Tempète”. Desde 1991, dirige excelentes oficinas de trabalho para atores na África e Europa.
Atuar com ele não era desempenhar um papel. Era um percurso de escavação das próprias entranhas mais profundas. Iniciava-se quase como num improvável teste de maçonaria – além de ter que dar pancadas antes que ele as desse, para estar bem atento a tudo o que se passava no palco. No “teste”’, passava-se pela ideia concreta de morte, como encerrar se por horas num ataúde imaginário para depois ressurgir. O seminário era pago e – muito significativo – aberto não apenas a atores profissionais. Profissional, eu estava habituado a chegar com o texto decorado com cada significado claro na mente. Por mais que prezasse a pluralidade do teatro internacional, era criado no vício da dualidade platônica “ocidental”.

Senegalês naturalizado francês, o trabalho de treinamento de Mamadou era, em si, originário de uma cultura prevalentemente oral unitária, na qual o corpo, a primeira memória de verdade para ator, se liberta da autocelebração. Começava com muitos e extenuantes exercícios físicos para que se redescobrisse a nossa primeira forma humana, o corpo; com efeito, para libertá-lo de cada obstáculo de estilização que a nós se antepusesse.
A simples respiração sob tensão, à procura do ar em seu nível mais concreto, desconstruía qualquer superestrutura. Sem percebermos, a respiração lentamente deixava de ser “trabalhada” e se aprofundava na ancestralidade do eu; os poucos objetos que nos cercavam viravam extensão do corpo; a imaginação, livre desse mesmo corpo – e mente – presos ou pesados; levava-nos à criação de histórias reais a serem contadas; primeiro, apenas com o mesmo corpo e depois com um texto externo escolhido – um conjunto de palavras vindo do “outro de si”, que poderia ser de qualquer autor. Texto que se tornava o grande alimento final da atuação.
Ótimo pedagogo, Mamadou não era aquele diretor clássico, mas estava ali, do lado, com a força de grande ouvinte. Seus muitos anos de experiência lhe permitiam compreender em poucos instantes quem era o Ser que habitava e trafegava o espaço da representação. Orientava, então , na direção da maior credibilidade alcançável para o universo que se queria representar. Era um trabalho exaustivo, persistente, à altura da dimensão sacrificial do teatro. Religioso e leigo, doloroso e feliz, sutil e profundo. Substantivo. Único.
Como ator, mas sobretudo como diretor, foi uma experiência determinante no trabalho quotidiano de direção de atores que exerci dali em diante. Não repeti aquele treinamento, nem poderia, mas entendi o recado e agi de modo a receber aquele saber como uma herança. Mais claramente: herança generosa do continente africano, se pensarmos no débito cultural que se tem com aquele continente.
A primeira experiência concreta que se seguiu foi o emprego dos instrumentos aprendidos na criação de uma das personagens do espetáculo “ O Asno de ouro”. De temática pacifista, foi montado no ano de 1997 sob a supervisão dramatúrgica de Renata Molinari, no jardim do Teatro dell’Arte da Trienal, atrás no Castello Sforzesco de Milão, com versões diversas realizadas em anos seguintes: no próprio Teatro dell’Arte, na periferia operária de Gorbals, no Tron Thetre do centro de Glasgow, Escócia, na base aérea da Otan de Aviano, Itália, dois dias antes do atentado às torres gêmeas de New York. Info aqui
A personagem em questão, Gordoobtusus, foi criada para e com o artista plástico e cenógrafo milanês Giampaolo Köhler (1959-2013), com quem trabalhei extensivamente desde o “depósito mitológico” no Centro de Pesquisa Teatral de Milão ao Macbeth no Espaço dos Satyros I. Sua personagem era de um escravo romano que pintava e desenterrava ossos humanos. Tudo começou com Mamadou, que, no seminário anteriormente citado, viu-o como ator, coisa que eu não conseguia fazer. Ele “envesgava” os olhos e não falava seu texto. Portava um bastão. Incapaz de decorar, pintava. Rumorosamente ofegante, era uma presença inquieta por sua respiração. Merece um próximo artigo, mas antecipo estas imagens para que se tenha uma ideia.
Uma aquarela sobre sobras de madeira – numa viagem imaginária feita no tempo – levou dez minutos, durante ensaios, onde ele escraviza-se a si mesmo na China imperial
Mamadou não se deixou ofuscar pela velocidade de seu extraordinário talento pictórico. Sugeri a ideia de que o pintor fosse um cego escravizado na função de coveiro. A indicação prática veio logo: uma hora de imobilidade diante de uma parede branca.
No papel criado para O Asno de Ouro, meses depois, no camarim, antes de postar-se diante de uma parede até que a vista se perdesse dentro de si.
Voltemos. Metido a besta e “modesto”, aos 35 anos, escolhi trabalhar com o poema Ofélia de Rimbaud, que partia do Hamlet de Shakespeare e o Jan, de O Mal-entendido, do franco argelino Albert Camus. (*)
Depois de dois exercícios que, como com os griôs da África Ocidental, remontavam ao extensíssimo trabalho de Mamadou com Peter Brook, a ideia que tinha do trabalho performático nos ensaios cingiu-se de seu sinal contrário. Eu era tomado de trejeitos. Estes se acentuaram durante a dicção do texto, mas, no quotidiano, desapareceram. Empreguei semanas para retornar a dizer o texto como no cotidiano. A este voltaram os trejeitos, mas enquanto parte orgânica da poesia monologante de Rimbaud e da incomunicabilidade do Jan de “O mal-entendido” – um uso e significação da aparência pessoal trabalhado duramente na construção de um “outro de si”.
[ Jan: Eles me receberam sem dizer uma palavra. Olharam para mim e não me reconheceram. Foi mais difícil do que eu pensava.
Maria: Você sabe que não foi difícil. Tudo o que se tinha a fazer era falar. Nesses casos se diz: “sou eu” e tudo volta ao normal.]
Jean e a esposa viraram parte de mim depois de ser obrigado a permanecer por horas numa mesma posição, engalfinhado à atriz ítalo-brasileira Giovanna de Toni (Maria), sem permissão para o menor movimento, ambos de olhos vendados. A única possibilidade restante foi dizer repetidamente o texto; estava a centímetros de seus ouvidos, as respirações se confundiam, e não era uma cena “romântica”. Aquilo era o griô que Brook pesquisou por tanto tempo com Mamadou. As nossas pernas e os braços adormeceram, enrolados no chão, e as duas horas foram interminável e existencialmente dolorosas . Tudo o que se passava na mente era inútil. Só o corpo, só o sentido e o sentimento desconstruídos valiam, minimamente, alguma coisa. Ao final, sobrava o ar que respirava para viver e… as palavras, de Shakespeare/Rimbaud e Camus. Nada de cenário, nada de exibição, nada de nada de nada, só aquilo, um sacrifício, uma mágica. Nada. Pensando depois, aquilo deve ter vindo de Grotowski. Via Brook. Via Mamadou. Via África. Via griô.
Nunca mais aceitei “atuar”; mas criar e situar-me num mundo delicado, preciso, colorido, feliz, ainda que na infelicidade das personagens. Perdi tudo. Jazz. Um Mauri morria todos os dias naquele palco, nascia um outro de si que eu não conhecia. O bom exercício da morte feliz. De viver no palco a transposição religiosa e leiga que os antigos egípcios inventaram e aportaram na Grécia e no Ocidente. É o que tenho dentro de mim quando ator, embora evite considerar-me como tal. Ainda bem.
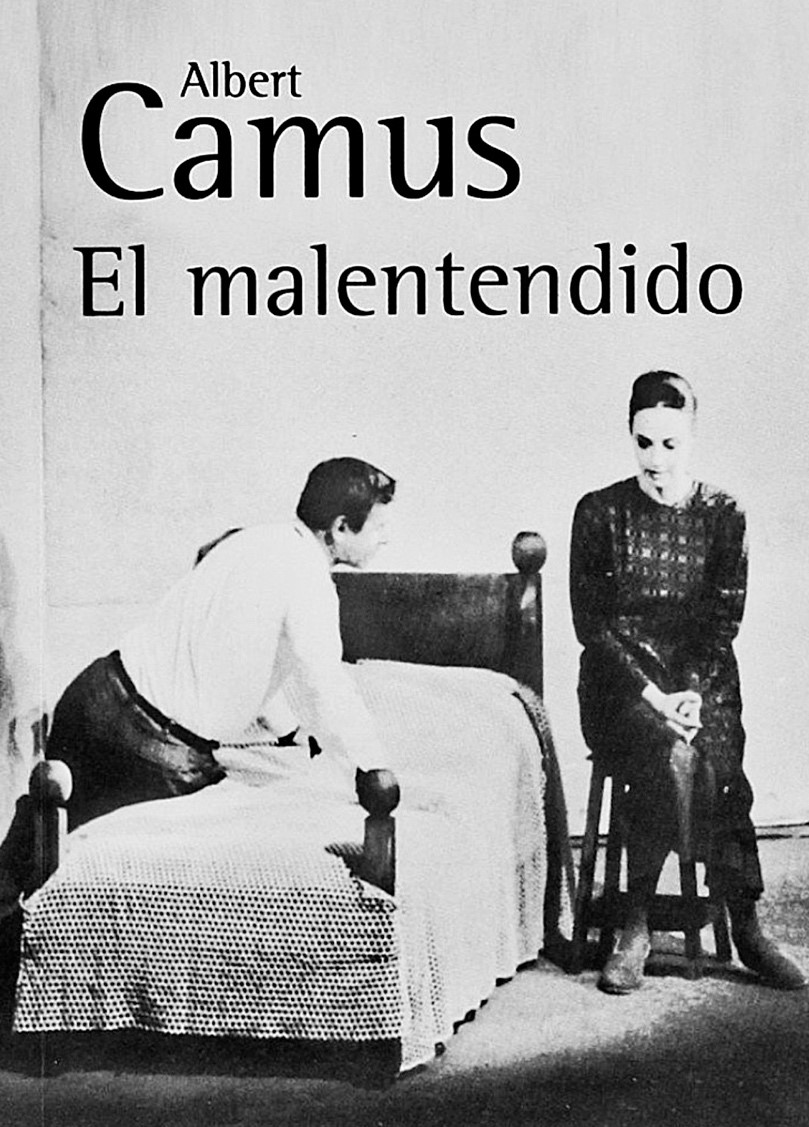
(*)
Resumo de O Mal-entendido, de 1943, durante o período escuro da Segunda Guerra Mundial, ainda sob a Ocupação nazista. Nasce de uma notícia publicada no Echo d’Alger em 1935. Em “L’étranger” encontramos a alusão a este evento: “Entre meu colchão de palha e o assoalho da cama, eu havia encontrado uma velha peça de jornal que falava de uma notícia “e a parábola bíblica do filho pródigo morto por seu próprio povo”.
Camus escreveu sobre a sua peça: “Um filho que quer ser reconhecido sem ter que dizer seu nome e que é morto por sua mãe e irmã após um mal-entendido.”
A ação acontece em uma pensão em um país da Europa Central, dirigida por uma mãe e sua filha que sonham em partir para um país de mar e sol. para realizar este sonho, as duas mulheres matam e roubam os ricos viajantes que param ali. Um viajante chega para alugar um quarto. É o filho, que retorna tendo feito fortuna para encontrar e ajudar sua mãe e sua irmã. Está acompanhado de sua esposa, mas prefere reencontrar, sozinho, aqueles que ele deixou há vários anos. Ele não se faz reconhecer, as duas mulheres não o reconhecem e o matam para conseguir seu dinheiro. Quando ela descobre a identidade da vítima, a mãe comete suicídio e sua filha, Martha, sentindo-se abandonada e traída, seus sonhos desaparecem, também se mata. No centro do drama, a incomunicabilidade, que alimenta o sentimento de absurdo, de mal-estar, de confinamento. Camus: “Toda a desgraça dos homens vem do fato de que eles não falam uma linguagem simples, mas sim uma linguagem falsa.”
(**)
Aqui, o poema de Rimbaud
Ophélie
I
Na onda calma e negra onde as estrelas dormem
A pálida Ophelia flutua como um grande lírio,
Flutua muito lentamente, deitada em suas longas velas.
– Ouve-se no bosque longínquo.
Por mais de mil anos, a triste Ofélia
Passa, fantasma branco, no longo rio preto
Por mais de mil anos, sua doce loucura
Sussurra seu romance à brisa da noite
O vento beija seus seios e se desdobra em coroa
Suas grandes velas embaladas suavemente pelas águas;
Os salgueiros trêmulos choram no ombro dela,
Em sua grande testa sonhadora, as palhetas se curvam.
Os lírios de água amassados suspiram ao seu redor;
Ela às vezes desperta, em um amieiro adormecido,
Algum ninho, do qual escapa um pequeno tremor de asa:
– Uma misteriosa canção cai das estrelas douradas
II
O pálida Ophelia! justa como a neve!
Sim, você morreu, criança, levado por um rio!
É que os ventos que caem das grandes montanhas da Noruega
Falou-te de amarga liberdade;
Era que um sopro, torcendo seus grandes cabelos,
Para tua mente sonhadora carregavas sons estranhos,
E teu coração ouviu a canção da natureza
Nas queixas da árvore e nos suspiros da noite;
E a voz dos mares selvagens, um grande guizo,
Partiu o peito de seu filho, demasiado humano e demasiado doce;
É aquela manhã de abril, uma bela cavaleira pálida,
Um pobre tolo, sentado mudo no seu joelho!
Céus! O amor! Liberdade! Que sonho, ó pobre tolo!
Você derreteu para ele como neve para atirar:
Suas grandes visões estrangularam seu discurso
– E o terrível Infinito aterrorizou seus olhos azuis!
III
– E o poeta diz que, nos raios das estrelas
Você vem para buscar, à noite, as flores que colhe;
E que ele viu sobre a água, deitado em seus longos véus,
A Ophelia branca flutuando, como um grande lírio.
Arthur Rimbaud
Ophélie
I
Sur l’onde calme et noire où dorment les étoiles
La blanche Ophélia flotte comme un grand lys,
Flotte très lentement, couchée en ses longs voiles…
– On entend dans les bois lointains des hallalis.
Voici plus de mille ans que la triste Ophélie
Passe, fantôme blanc, sur le long fleuve noir
Voici plus de mille ans que sa douce folie
Murmure sa romance à la brise du soir
Le vent baise ses seins et déploie en corolle
Ses grands voiles bercés mollement par les eaux ;
Les saules frissonnants pleurent sur son épaule,
Sur son grand front rêveur s’inclinent les roseaux.
Les nénuphars froissés soupirent autour d’elle ;
Elle éveille parfois, dans un aune qui dort,
Quelque nid, d’où s’échappe un petit frisson d’aile :
– Un chant mystérieux tombe des astres d’or
II
O pâle Ophélia ! belle comme la neige !
Oui tu mourus, enfant, par un fleuve emporté !
C’est que les vents tombant des grand monts de Norwège
T’avaient parlé tout bas de l’âpre liberté ;
C’est qu’un souffle, tordant ta grande chevelure,
À ton esprit rêveur portait d’étranges bruits,
Que ton coeur écoutait le chant de la Nature
Dans les plaintes de l’arbre et les soupirs des nu
Tu viens chercher, la nuit, les fleurs que tu cueillis ;
Et qu’il a vu sur l’eau, couchée en ses longs voiles,
La blanche Ophélia flotter, comme un grand lys.
C’est que la voix des mers folles, immense râle,
Brisait ton sein d’enfant, trop humain et trop doux ;
C’est qu’un matin d’avril, un beau cavalier pâle,
Un pauvre fou, s’assit muet à tes genoux !
Ciel ! Amour ! Liberté ! Quel rêve, ô pauvre Folle !
Tu te fondais à lui comme une neige au feu :
Tes grandes visions étranglaient ta parole
– Et l’Infini terrible éffara ton oeil bleu !
III
– Et le Poète dit qu’aux rayons des étoiles
Tu viens chercher, la nuit, les fleurs que tu cueillis ;
Et qu’il a vu sur l’eau, couchée en ses longs voiles,
La blanche Ophélia flotter, comme un grand lys
Arthur Rimbaud
https://www.mag4.net/Rimbaud/poesies/Ophelie.html
Que ton coeur écoutait le chant de la Nature
Dans les plaintes de l’arbre et les soupirs des nu
Tu viens chercher, la nuit, les fleurs que tu cueillis ;
Et qu’il a vu sur l’eau, couchée en ses longs voiles,
La blanche Ophélia flotter, comme un grand lys.
C’est que la voix des mers folles, immense râle,
Brisait ton sein d’enfant, trop humain et trop doux ;
C’est qu’un matin d’avril, un beau cavalier pâle,
Un pauvre fou, s’assit muet à tes genoux !
Ciel ! Amour ! Liberté ! Quel rêve, ô pauvre Folle !
Tu te fondais à lui comme une neige au feu :
Tes grandes visions étranglaient ta parole
– Et l’Infini terrible éffara ton oeil bleu !
III
– Et le Poète dit qu’aux rayons des étoiles
Tu viens chercher, la nuit, les fleurs que tu cueillis ;
Et qu’il a vu sur l’eau, couchée en ses longs voiles,
La blanche Ophélia flotter, comme un grand lys
Arthur Rimbaud
https://www.mag4.net/Rimbaud/poesies/Ophelie.html





